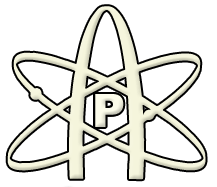Na sequência da visita de Sócrates à Rússia, a questão dos mísseis americanos na Polónia e na República Checa regressou. Acho perfeitamente idiota e desnecessário e das duas uma: ou os americanos já esqueceram tudo o que sabiam a respeito dos russos, ou estão mesmo a provocá-los.
1- A questão central na análise de Sokolovsky, e bem assim na análise de toda a estratégia soviética, é ver a articulação existente entre o regime Czarista e a História do Estado Russo e o regime Soviético. De facto, nota-se uma continuidade não só no tipo de regime político, no seu funcionamento interno, como, para o que interessa aqui, na postura do Estado em termos de política externa e de defesa. Assim, e para o comentário de Sokolovsky, seguir-se-á o seguinte esquema: descrição das condicionantes históricas, geográficas, culturais e políticas; nascimento da URSS e primeiras definições estratégicas do novo estado; análise do autor em causa; conclusões.
2- Para explicar a importância dos condicionalismos de diverso tipo que formataram em grande medida as definições estratégicas soviéticas é importante ter em conta o testemunho dado por Kennan, profundo conhecedor do povo e do Estado russo, e foi um dos primeiros ou, provavelmente, o primeiro ocidental a aperceber-se da continuidade entre o czarismo e o regime soviético e a persistência de comportamentos “russos” na política externa da URSS. Antes de Kennan, só autores como Trotski (em Resultados e Perspectivas, por exemplo) ou Rosa Luxemburgo se aperceberam plenamente de tal facto. N’ O Longo Telegrama de Moscovo Kennan explica que a URSS vive, no pós-II Guerra Mundial, numa visão de cerco capitalista antagonístico que não possibilita uma coexistência pacífica. Por esta razão, precisa de criar sólidas estruturas de segurança. Posteriormente, o autor sublinha que se trata não tanto de um comportamento soviético quanto de um instinto russo, o instinto de um povo agrícola que vive em terras planas na vizinhança de povos nómadas e que depois entra em contacto com o Ocidente e receia o seu avanço civilizacional e tecnológico. Este instinto, Kennan atribui-o mais aos governantes (quaisquer que eles sejam) que ao povo. Consequentemente, há uma paranóia securitária e expansionista, que é histórica e não de regime, em que o sentimento de insegurança é tal que o desejo é de destruição e esmagamento completo dos adversários, não havendo uma cultura de compromisso.
Convém agora explicitar melhor o que se acaba de afirmar. O Estado Russo tem uma História de expansão permanente. Originário da taiga do Norte, de solos pobres e clima extremamente rigoroso, o povo russo teve, nessa fase, como única defesa a floresta. Ao procurar melhores solos e um clima mais favorável, expandiu o seu território para sul, sudoeste e sudeste, para a estepe. Como defesas dos colonos passaram a haver apenas o rigor do clima, a extensão do território e o poder militar crescente. Nesse sentido, o Estado Russo teve sempre como sua principal e quase única preocupação a sua própria sobrevivência física. A existência de duas passagens, uma em toda a extensão da fronteira oeste, entre o Báltico e o Mar Negro, e outra a oriente, entre o sul dos Urais e o Mar Cáspio, foram servindo tanto para invasões estrangeiras (teutões, lituanos, alemães, cossacos, mongóis, ao longo de toda a História russa) como para a própria expansão russa, dependendo da força relativa de cada uma das partes em cada momento. A fragilidade das fronteiras, as necessidades económicas domésticas, as preocupações de segurança, a inexistência de potências fronteiriças amigáveis acabaram por fazer uma História de guerras permanentes. E, de tal forma isto é verdade, que a própria ideia de expansão é entendida como uma forma defesa face ao inimigo exterior. Foi assim que o Estado se expandiu para a estepe para proteger o território de origem, e para todo ou quase todo o Heartland eurasiático, para proteger a estepe. Daqui se extrai a conclusão óbvia que há uma lógica de expansão quase ilimitada: conquistar mais para garantir a segurança do já conquistado. Simultaneamente, e para evitar que determinado inimigo possa regressar fortalecido, torna-se premente que a sua derrota seja rápida e total.
Um Estado que se desenvolve nestas circunstâncias tem características peculiares. A Rússia (à semelhança, por exemplo, da China) era uma Burocracia Imperial Asiática, um Estado patrimonialista, em que um autocrata encabeça e comanda um aparelho administrativo centralizador que consegue impor o domínio absoluto do imperador sobre toda a extensão do seu território. Este aparelho administrativo é extremamente eficaz na extracção de recursos da sociedade, sendo esses recursos dispendidos essencialmente no aparelho militar e burocrático, o que tem efeitos multiplicadores ao fortalecer o Estado não só a nível externo (face a inimigos e invasores) como a nível interno (adquirindo mais e mais eficácia na extracção de recursos e mantendo níveis elevadíssimos de repressão social).
No entanto, parecerá abusivo atribuir a totalidade da estratégia soviética a condicionantes exteriores à própria fundação do regime. Escapando ao determinismo geográfico, é importante também salientar o determinismo histórico, já para não falar do próprio nascimento do regime e dos seus primeiros anos. Às características do regime soviético não terão sido estranhos a repressão e a luta interna, causada e causadora de sentimentos de paranóia e perseguição sistemática entre a elite governante, com a guerra civil e as purgas estalinistas. Por outro lado, a própria dialéctica marxista parece, de forma perversa, adaptar-se à lógica de rejeição pura do que é estático (e, daí, um reforço do expansionismo). Mais ainda, a teleologia do materialismo histórico aponta para uma vitória absoluta, final e decisiva de um só modelo de sociedade, um só sistema social. Assim, reforça-se também o desejo instintivo de esmagamento absoluto do oponente. Uma interpretação peculiar do marxismo e a herança histórica do czarismo fundem-se na União Soviética e na sua elite. O instinto russo compele à permanente preparação da guerra pela segurança em tempo de paz; a ideologia inspira a luta contra todos os inimigos do sistema social que no fim da História vencerá.
3- Desta forma, a doutrina militar soviética absorveu a ofensiva como eixo estratégico vital. Os primeiros estrategas soviéticos fizeram como que a ponte entre o passado e o presente, entre o czarismo e o regime soviético; assim sendo, entre esses teóricos militares contavam-se tanto oficiais veteranos do exército imperial como jovens revolucionários. Uns e outros formularam os conceitos que predominariam na estratégia soviética. Entre tais conceitos estão o combate de grande profundidade, a primazia da ofensiva e a mobilidade e a manobrabilidade. A obra Estratégia de 1927 de Svechin dá um salto qualitativo enorme. Torna-se na única grande obra soviética do estilo durante muito tempo (será preciso esperar por Sokolovsky, que será influenciado também por Svechin), e por isso no manual de estratégia do regime. Na sua obra, o autor analisa a complementaridade ou a oposição entre binómios como ofensiva/defensiva, guerra de movimento/guerra de posição, guerra de destruição/guerra de desgaste. Svechin faz a apologia de uma articulação entre as guerras de desgaste, de destruição e de movimento. Qualquer guerra terá de ser marcada pela rapidez e mobilidade; a todo o custo se deve evitar que o oponente consiga firmar posições numa frente sólida, pelo que a guerra deverá ser de movimento. O inimigo deverá sofrer múltiplos ataques, sucessivos e coordenados, marcados pela rapidez e pelo seu carácter maciço, em operações de desgaste que no entanto não são suficientes porquanto não cumprem o objectivo primordial: a destruição completa do inimigo. Nesse sentido, há uma fase final, a fase decisiva na qual se cumpre esse objectivo. Após a publicação de Estratégia, o endurecimento das purgas estalinistas levará à censura de muitas obras, pelo que durante bastante tempo pouco mais se produziu em termos de teoria militar.
4- Na década de 1960 a doutrina Kruchtchev impulsiona novamente a estratégia soviética. É Sokolovsky, através de Estratégia Militar, que realiza o trabalho de teorização da doutrina. Esta afirma-se defensiva, debalde o facto de ser objectivamente ofensiva, sem excluir acções preventivas. Sokolovsky faz assim regressar o trabalho dos primeiros teóricos, cujos princípios estratégicos são adaptados à utilização maciça do armamento nuclear. Sendo a trave-mestra da estratégia soviética a ofensiva, o ataque (mesmo quando se trata de uma resposta a outra ofensiva), é preocupação fundamental de Sokolovsky levar a guerra para dentro do território do inimigo, aí o destruindo por completo. Em consequência desta formulação, o estratega soviético advoga a utilização de um ataque nuclear inicial maciço. Para além disso, a defesa propriamente dita e o contra-ataque deverão ser levados a cabo por unidades extremamente móveis. Sokolovsky defendia que a guerra do futuro (que seria uma guerra mundial nuclear entre os dois blocos que representavam sistemas sociais distintos e opostos) seria substancialmente diferente das anteriores, cujos objectivos se cingiam ao enfraquecimento e derrota das forças armadas inimigas e à conquista de regiões ou centros de poder dos inimigos. Nessas guerras, a inexistência de meios estratégicos de destruição obrigava ao contacto directo entre os beligerantes. Mesmo na II Guerra Mundial, na qual, com o objectivo de desorganizar o interior do inimigo, se recorreu ao bombardeamento aéreo, esta estratégia não surtiu efeitos relevantes no resultado do conflito. Para além disso, os objectivos do conflito mantinham-se os mesmos de sempre. Pelo contrário, na guerra do futuro o armamento estratégico de destruição maciça (nomeadamente o armamento nuclear) ocuparia o lugar central. Os beligerantes usariam os mais eficazes meios militares com o objectivo de alcançar a aniquilação ou capitulação do inimigo no mais curto espaço de tempo possível.
A estratégia militar soviética delineada por Sokolovsky aponta para uma clara conjugação entre a derrota das forças armadas inimigas e a destruição completa do inimigo no seu próprio território, devendo esses objectivos ser alcançados em simultâneo. É o armamento nuclear que permite resolver o impasse criado por este duplo objectivo. Vencer no menor espaço de tempo possível ao mesmo tempo infligindo ao oponente uma derrota tal que todos os fundamentos do seu poder (sejam eles políticos, económicos ou militares) desapareçam, em qualquer parte do Mundo onde esses fundamentos existam (seja no coração do território nacional seja em bases espalhadas pelo Mundo) só é possível por intermédio do armamento estratégico de longo alcance. Pelo que se percebe do agora exposto, há uma limitação da guerra ao mais pequeno espaço de tempo, e uma expansão da guerra a todo o espaço humanizado, incluindo, por exemplo, linhas de comunicação por satélite. No entanto, convém explicitar que (e sem dúvida aqui está a influência do antigo regime) o tempo de paz deve servir para preparar a guerra, que será inevitável; assim, exige-se uma mobilização permanente tanto dos meios e recursos militares, como da população civil, por forma a que o máximo de forças estejam preparadas para serem utilizadas no próprio deflagrar da guerra; os momentos iniciais da guerra são os mais violentos, sendo fulcrais para todo o seu desenvolvimento. É a capacidade de resposta nestes momentos que vai determinar a sobrevivência do país após o primeiro embate, garantindo a não-destruição do país e da população. Inversamente, a devastação infligida no inimigo criará vastas zonas desertas, nas quais forças altamente mecanizadas lançarão ofensivas caracterizadas pela mobilidade, impedindo que o oponente crie linhas de defesa consolidada.
Importante é também ver a concepção de Sokolovsky a respeito dos recursos humanos no plano militar. Com base em Lenine, sustenta o argumento segundo o qual a URSS tem clara vantagem sobre os países do bloco capitalista, o que se deve ao facto de os exércitos da guerra do futuro (e, na verdade, os exércitos que foram usados na II Guerra Mundial e que as principais potências detêm no início da década de 1960) são marcados pelo seu esmagador número. São forças armadas de milhões de efectivos, o que também se explica pelo alargamento do campo de batalha quase até ao infinito. A consequência que isto tem, aos olhos de Sokolovsky, insere-se na análise marxista-leninista. Ao passo que no bloco capitalista o desaparecimento dos exércitos de mercenários provocaria um agudizar das contradições de classe e uma consciencialização da existência dessas contradições em camadas cada vez maiores da população, resultando num enfraquecimento dos exércitos ocidentais. Pelo contrário, no bloco socialista, a comunhão de interesses entre povo e governo daria mais alento ao povo e aos militares.
Por outro lado, também o tipo de armamento que passa a ser central, o armamento nuclear, exige alterações substanciais do ponto de vista quantitativo; implica grandes perdas, elevado número de baixas, e por isso mesmo forças armadas muito numerosas, bem como um número muito elevado de reservistas, um número que permita facilmente restabelecer os efectivos totais das forças armadas. Mas também alterações qualitativas estão em causa. A introdução de material militar que exige elevadas capacidades técnico-científicas requer que o pessoal militar seja cada vez mais especializado e cada vez mais qualificado. Nesse sentido, o peso relativo de engenheiros e técnicos no seio das forças armadas conheceu um crescimento contínuo. Simultaneamente, a percepção que o novo material bélico é extremamente destrutivo levou à compreensão da necessidade de o pessoal médico crescer também ele, para minorar os efeitos de uma guerra nuclear, permitindo a sobrevivência da população civil e dos efectivos militares. Ora, ter forças armadas numerosas e com elevado desenvolvimento técnico não pode depender exclusivamente da dimensão demográfica de um país. Desta forma, Sokolovsky aponta ainda como requisitos fundamentais uma pluralidade de factores, que incluem a natureza do sistema socio-político, o seu nível de desenvolvimento e a sua capacidade de organização interna. A prosperidade, a cultura, as capacidades técnicas e as condições físicas da população, bem como o seu alento moral e a comunhão de interesses entre civis, militares e políticos, enquadrados por forte sentido de organização e disciplina amalgamam-se num todo que constitui uma vantagem para o bloco socialista. No entanto, e apesar de Sokolovsky afirmar – porventura mais por obrigação política que por convicção própria – que a vitória sobre o bloco capitalista antagonizador do mundo socialista seria o fim inevitável da guerra moderna, o bloco de Leste teria de ter em conta um factor determinante. Um pré-requisito para a vitória militar na guerra moderna é a capacidade de a economia de um país garantir às forças armadas o apetrechamento em material bélico que garanta a sua constante superioridade, tanto em termos quantitativos como qualitativos, face ao inimigo. Desta forma, há uma triangulação entre desenvolvimento económico, investigação técnico-científica e poder militar, sendo que o objectivo final é sempre o reforço do poder militar.
5- Do que foi exposto, podemos extrair algumas conclusões a respeito da estratégia soviética, em grande parte resultado do passado czarista da Rússia. A política externa soviética caracteriza-se por uma busca de conciliação entre máximos e mínimos, expresso tanto no que respeita à questão da eficácia (máximos ganhos com mínimos riscos) como, em consequência dessa concepção e no seguimento que os estrategas soviéticos, com Sokolovsky à cabeça, dão a essa questão, na expansão da guerra aos máximos limites geográficos e mínimos limites temporais. É sempre uma busca do absoluto que não admite a estabilidade de poderes, um movimento dialéctico rumo à segurança absoluta. A inexistência de fronteiras nem limites para a ambição securitária é uma característica comum das burocracias czarista e soviética, uma ambição que sendo desmedida no espaço, não o é no tempo: a precipitação não é uma nota determinante da classe dirigente. O combate final deverá ocorrer apenas quando o país estiver pronto para derrotar o inimigo, e derrotá-lo de forma total. Para esta derrota absoluta, o Estado tem de construir um aparelho forte, que faça canalizar todos os esforços da sociedade, todos os seus recursos, para a consolidação do poder estatal. Esta consolidação tem em vista garantir que o Estado, uma vez agredido, esteja em condições de, através da supremacia militar, tomar a iniciativa e mantê-la do seu lado através de ofensivas rápidas e maciças, devendo sempre haver um momento decisivo (que variou – Sokolovsky defendia ser o momento inicial, mas outros opuseram-se, afirmando que tal só deveria ocorrer a posteriori) no qual o oponente seja totalmente esmagado. Em todo o caso, a ofensiva é determinante na estratégia russo-soviética: é ela que garante que a guerra seja feita fora do território russo, salvaguardando-o da destruição bélica e permitindo a conquista de mais territórios que formarão nova cintura de defesa do território original. Esta primazia da ofensiva perduraria até aos nossos dias. E, mesmo durante os períodos de détente, na década de 1970 e no período final da URSS, em que se buscava assegurar o Ocidente das intenções puramente defensivas da estratégia soviética, o raciocínio permanecia o mesmo que perpassa em toda a História russa: durante a paz, preparar a guerra; fazer a guerra, para obter paz.