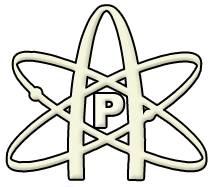Parece-me interessante a ideia de realizar uma conferência sobre A Ideia da Morte de Deus na Cultura Ocidental (quarta-feira, dia 4 de Junho às 18:30, Anfiteatro IV da FLUL). Temo no entanto que ela reproduza a maioria dos clichés que a discussão (que é tão velha como a frase de Nietzsche, que por sua vez é apenas uma constatação de algo que começou a acontecer de forma institucionalizada desde a Revolução Americana e de forma larvar pelo menos desde Spinoza e Hobbes).
A discussão sobre a morte de deus está normalmente inquinada pela sacralização do conceito de "deus"; a própria utilização da palavra "deus" em maiúsculas (não me posso esquecer de uma carta que à revista Sábado escrevi, sobre Dawkins, com o "d" minúsculo repetido até à exaustão, mas publicada com o "d" maiúsculo não menos exaustivamente). A primeira tarefa para que possa haver uma discussão séria, não marcada pela costumeira desonestidade argumentativa que constitui a colocação das diferentes partes em posições de superioridade e inferioridade, é dessacralizar o conceito; só assim pode ele ser dissecado racionalmente.
Isto feito, partimos então não para a morte de deus (algo que, literalmente tomado, seria pouco melhor que cretino dado que não foi deus que foi morto, mas a ideia de deus que foi arredada das múltiplas esferas da vida humana, tanto na dimensão social quanto na individual) mas para o weberiano desencantamento do mundo.
Este processo revestiu múltiplas formas, umas - raras, mas cruciais porque radicais - morais, outras - débeis e parcelares - políticas e outras - e aí o desencantamento foi dominante - científicas.
Do ponto de vista científico, todos os avanços no saber se deram contra a religião, reduzida ela à sua essência - o dogma. A negação científica de deus está profundamente enraizada, inclusivamente entre os crentes. A recusa dos textos religiosos como relevantes para o progresso do saber e da investigação científica - realidade da qual áreas como a geologia ou a biologia são exemplos extremados - é de facto uma perniciosa forma de ateísmo que contagiou todos os países que se conseguiram desenvolver por via da inteligência. Podemos pensar que há países ricos e nos quais a religião é dominante, como as petromonarquias. Mas nem aí se produz ciência, nem a sua riqueza nasceu da inteligência.
Em todo o caso esta separação, por si só, é débil e superficial. A negação de deus na ciência, mas a sua aceitação na política ou na moral permite não só que subsistam ideias minimalistas a respeito da racionalidade que a reduzam a áreas sérias como a economia, a medicina, etc., como tem permitido o ressuscitar de deus através do criacionismo (muito em voga no protestantismo americano, mas curiosamente com boas e sólidas raízes no catolicismo europeu), envolvendo ideias sem qualquer sustentação científica com um argumentário e uma linguagem pseudo-científicos.
Outra das fraquezas associadas a um certo positivismo é que a alternativa ao minimalismo foi o maximalismo dos totalitarismos do século XX. Diz-se correntemente que se trata de correntes ateias e que as ditaduras ateístas mataram muito mais gente que as ditaduras religiosas. Ora, um pouco de História não mata ninguém. E pode até prevenir algumas mortes, presumo eu. Comparando a Alemanha nazi com a Alemanha da Guerra dos Trinta Anos, temos que a II Guerra Mundial e as purgas que a precederam matou cerca de 12 dos 72 milhões de alemães, ou seja, cerca de 17% da população. Em contrapartida, calcula-se que ao todo a população alemã tenha sido, nas guerras religiosas, diminuída em um terço (em algumas zonas a população reduziu-se em dois terços). Ou seja Hitler conseguiu matar metade dos alemães que católicos e protestantes, em todo o seu fervor religioso, conseguiram. Dir-me-ão que esta é uma forma desumana de encarar o problema, descontextualizada também. De todo. De que outra forma podemos responder à questão do cálculo das mortes, senão, efectivamente, calculando as mortes e contextualizando-as no universo demográfico de cada época?
Pois bem. Mas vou aprofundar a ideia. Estas ditaduras totalitaristas não são de forma nenhuma distintas da religião, excepto na ideia de deus, e mesmo aí algum cuidado é preciso ter. Eles não são o culminar do racionalismo, elas são a própria negação do racionalismo. E não vou argumentar em torno da ideia de Liberdade, trave mestra de toda a arquitectura da Modernidade. Basta-nos dizer que o comunismo e o nazismo tiveram, tal como a religião na passagem do Homem da sua mera condição animal para seres providos de razão, a intenção de explicar o mundo. Fornecer as respostas às questões que afligiam os homens. E tal como a religião, rapidamente se enquistaram no dogma. E até criaram (embora aqui eu admita que a ideia possa ser forçada, e portanto nela não me aventuro) os seus próprios deuses.
Os totalistarismos não são pois a negação da religião, mas a continuação da religião por outros meios - políticos. E foram tão destrutivos quanto destrutiva foi e tem sido a religião. Dir-me-ão que não está no cerne do cristianismo ou do islamismo o ódio e o desprezo pelo Outro, que o mal que deles nasceu não estava neles. Os textos que os fundam não são de forma nenhuma prova disso. Os fundamentalistas religiosos conseguem sempre encontrar nesses textos excelentes bases de apoio. Mais ainda, mesmo os crentes menos radicais usam da sua crença para frequentemente impor a outrem realidades não consensuais.
E a ideia pode ser explorada à exaustão: se no nazismo de barato dou que o ódio é próprio sustento da ideologia, ninguém de boa fé pode supor que Karl Marx pretendesse que em seu nome dez ou vinte milhões de pessoas fossem mortas na URSS, ou setenta milhões na China, ou dois milhões no Cambodja. Economista que era, provavelmente (poderíamos supor pelo contrário) que perante o falhanço prática da sua teoria, deixasse ele próprio de ser comunista. Os comunistas tinham muito boas intenções. Mas algo há no comunismo que o conduziu a ser tão nefasto. Por que motivo conclusão diferente poderíamos retirar a respeito do cristianismo ou do islamismo?
O desencantamento da política não se deu pois de forma nenhuma pelas ditas ditaduras ateístas (que, como ditaduras que são, são negações da razão e da Modernidade) mas pela laicização (em sentido próprio) ou seja, pelo Estado moderno. Estado moderno, Estado de direito, Estado fundado na soberania popular e Estado neutral. A sua neutralidade encontra uma das suas mais importantes, mas mais quebradiças, construções no Estado laico - uma instituição absolutamente independente dos variados dogmas aos quais os seus cidadãos possam ou não aderir, porque por certo nem todos aderirão aos mesmos dogmas e isso é já razão suficiente (se outras e muito boas não houvesse) para que o Estado não tenha dogma algum que não seja a ausência de dogma e o absoluto respeito por cada indivíduo tomado em si e nas suas relações com os outros indivíduos e nunca como parte de grupos infra-estatais que visem obter privilégios que a sua liberdade individual lhes não confira.
A última esfera na qual o desencantamento do mundo existe é enfim a moral. E aqui surge talvez o maior dos paradoxos - que de resto é mesmo anterior à própria Modernidade, mas que definitivamente se problematiza com ela. Entre a moral pregada dos púlpitos e o ethos vivido na sociedade vai uma distância tal que é difícil saber se vivemos todos num mesmo mundo. E arredo daqui a questão da hipocrisia e do falso moralismo. Não me interessa saber se o padre x cumpre os ensinamentos de Cristo, até porque ensinamentos cristãos há-os para todos os gostos. A questão é mesmo a de saber se os indivíduos se revêem nos dogmas que as religiões lhes pretendem impor. Quantos portugueses se dizem crentes de alguma religião, e quantos aprovaram o aborto até às 10 semanas? Quantos se divorciaram? Quantos se abstiveram de ter sexo fora do casamento? Quão fraca é a moralidade que não consegue que os indivíduos livremente ajam de acordo com ela, sem se ofenderem nem ofenderem os outros?
Diz-se amiúde que a religião é uma necessidade do Homem. Diremos então: a religião é patológica ao Homem. Não creio que seja uma inevitabilidade. Mas será um pathos. Ora aquilo de que o Homem enquanto ser racional precisa não é de se sujeitar a uma paixão, a uma inclinação da natureza, de se aviltar a uma reminiscência com fundamentos eventualmente até biológicos. O facto de a nossa natureza nos dizer para ter sexo loucamente para melhor propagarmos os nossos genes não significa que o façamos (diz-nos mesmo que, no processo, podemos morrer em resultado de doenças várias). Não, do que o Homem precisa não é de um pathos, é de um ethos, um hábito de reflectir e escolher racionalmente.
Ora uma ética fundada na única ideia metafísica racionalmente fundamentável (e ainda assim cientificamente não redutível), a liberdade, é precisamente o legado da Modernidade, esse desencantamento do mundo que a morte de deus constitui e que nos foi legada pelo Iluminismo. E O que é o Iluminismo?
O Iluminismo é a saída do homem da sua menoridade de que ele próprio é o culpado. A menoridade é a incapacidade de se servir do entendimento sem a orientação de outrem. Tal menoridade é por culpa própria se a sua causa não resido na falta de entendimento, mas na falta de decisão e de coragem em se servir de si mesmo sem a orientação de outrem. Sapere aude!
Kant, Resposta À Pergunta: Que é o Iluminismo?
Aceitar a morte de deus pelo reconhecimento do desencantamento da ciência, da política e da moral é por conseguinte a única forma de reconhecer a liberdade do indivíduo enquanto ser racional. E para tal não é preciso deixar de acreditar em deus. Basta já não o levar muito a sério. Nada que praticamente todos os ocidentais, de resto, já não o façam.